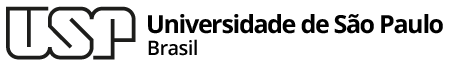Uma permantente inquietação e desconfiança quanto a histórias que já foram contadas movem Mônica Duarte Dantas, professora do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da USP. Por causa disso, em 2004, recém contratada pela USP e com seu doutorado sobre o Arraial de Canudos completando dois anos, a estudiosa pôs na cabeça a ideia de organizar uma publicação que contasse a história das revoltas brasileiras do século XIX. Mas com uma novidade: do ponto de vista dos homens livres pobres e libertos.
Uma permantente inquietação e desconfiança quanto a histórias que já foram contadas movem Mônica Duarte Dantas, professora do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da USP. Por causa disso, em 2004, recém contratada pela USP e com seu doutorado sobre o Arraial de Canudos completando dois anos, a estudiosa pôs na cabeça a ideia de organizar uma publicação que contasse a história das revoltas brasileiras do século XIX. Mas com uma novidade: do ponto de vista dos homens livres pobres e libertos.
Estudando Canudos, ela já desconfiava do rótulo de revolta messiânica. “Essa história era muito mal contada porque na hora em que se transforma isso simplesmente em uma revolta messiânica ou milenarista, retira-se todo o conteúdo social, o conteúdo de protesto. Acaba ficando uma certa pecha de ignorância, de ‘eles não sabem o que fazem’, ‘eles estão seguindo um líder carismático’. Isso me incomodava muito. Eu achava que tínhamos que olhar as revoltas pelo conteúdo político que elas têm”. O resultado deste “incômodo” foi o livro Revoltas, Motins, Revoluções – Homens livres pobres e libertos no Brasil do século XIX (Alameda Casa Editorial, 567 p., R$ 70,00).
Lançado em novembro de 2011, a obra tem 18 capítulos, cada um sobre uma revolta do período, e foi escrito por 14 brasileiros e brasilianistas estudiosos do país nos séculos XVIII e XIX. A publicação conta, ainda, com uma introdução e um capítulo escritos por Mônica Dantas. O objetivo é dar subsídios, tanto a acadêmicos quanto ao público mais amplo, para entender essas revoltas sob este outro ponto de vista, proposto por ela.
A pesquisadora frisa, porém, que não há uma hierarquia de abordagens – a que ela escolheu não é mais ou menos importante do que as outras. O que acontece é que, para se compreender uma história, um país, é necessário compreender seus diversos grupos sociais. “Nesse sentido, o livro contribui para um tema da historiografia que ainda estava carente de uma abordagem do tipo”, completa.
Procurar entender os acontecimentos históricos por meio de versões produzidas por camadas sociais que não formam a elite é um pensamento partilhado também pelos outros autores do volume. Luciano Mendonça de Lima, por exemplo, tem seu doutorado sobre a Revolta do Quebra-Quilos (iniciada em outubro de 1874) focalizando a participação dos escravos, e voltou aos seus arquivos para escrever o Capítulo XIII de Revoltas, Motins, Revoluções.
Outros pesquisadores, como Luís Balkar Sá Peixoto Pinheiro, Matthias Röhrig Assunção e Hendrik Kraay também já tinham estudos na área sobre a Cabanagem, a Balaiada e a Sabinada, respectivamente. Assunção, Kraay e Marcus J. M. de Carvalho, inclusive, foram pioneiros em estudos das revoltas no Brasil dos séculos XVIII e XIX sob o ponto de vista das camadas mais baixas.
De onde veio a “insurreição”
Uma das maiores revelações do livro está já na introdução escrita por Mônica, e diz respeito às influências usadas para compor o Código Criminal brasileiro de 1830 no que se refere a insurreições.
A autora havia planejado os seus capítulos como um epílogo “costurando” todas as revoltas e uma introdução analisando como os movimentos foram culpabilizados e penalizados, um assunto comum a todos eles e que ia além de uma mera apresentação. A ideia era não enviesar a leitura logo no início do livro, mas tampouco fazer desta introdução um relatório.
Nos idos de 2008 e 2009, durante algumas leituras – quando a pesquisadora já estava recebendo textos para o livro – sua inquietação e a desconfiança características deram as caras novamente. “Eu fui ler as obras sobre o Código Penal e começou a me dar um incômodo. ‘Tem algo estranho’, pensei”. A partir daí, as pesquisas de Mônica a levaram para outro caminho.
 Em nenhum dos dicionários que são referência para estudos daquele período – nem no Bluteau, escrito no século XVIII, nem no Morais e Silva, do século XIX – havia o verbete “insurreição”, termo adotado no Código Penal brasileiro da época, e caracterizado como um crime escravo. “Eu levei um susto porque não há nada mais oficial do que um Código Penal. Então como era possível haver no Código um tipo penal cuja palavra não havia sido dicionarizada?”. Foi o começo de um ano de pesquisas.
Em nenhum dos dicionários que são referência para estudos daquele período – nem no Bluteau, escrito no século XVIII, nem no Morais e Silva, do século XIX – havia o verbete “insurreição”, termo adotado no Código Penal brasileiro da época, e caracterizado como um crime escravo. “Eu levei um susto porque não há nada mais oficial do que um Código Penal. Então como era possível haver no Código um tipo penal cuja palavra não havia sido dicionarizada?”. Foi o começo de um ano de pesquisas.
Entre as hipóteses levantadas, estava a de que caracterizar a insurreição como crime escravo tivesse sido uma invenção brasileira. Mas isso foi logo descartado, pois naquele contexto a circulação de ideias já era enorme no mundo ocidental, principalmente em assuntos como o constitucionalismo. Uma outra possibilidade seria a de o nosso código da época ter se embasado no código francês, feito em 1810; mas a esta altura a França já não era mais escravocrata, não havendo sentido em falar de “crime escravo”.
Restava o Haiti, país que, após uma revolta de escravos ocorrida em 1794, foi o primeiro a abolir a escravidão e, em 1804, o segundo das Américas se tornar independente. Ali sim fazia sentido a palavra “insurreição” ser dicionarizada como sinônimo de crime escravo, mesma interpretação do Código Penal Brasileiro de 1830. “Eu comecei a levantar a documentação sobre o Haiti e o que eu percebi? Que os textos escritos originalmente em francês sobre o Haiti raramente usavam a palavra insurreição para se referir à Revolução do Haiti. Em compensação, os textos escritos em inglês, especialmente nos Estados Unidos, usavam correntemente a expressão insurrection para se referir ao Haiti e à sublevação de escravos em geral”.
A autora passou, então, a pesquisar os códigos criminais estadunidenses. Mas, outra vez, se deparou com um problema. “Os Estados Unidos eram common law, então não possuía códigos. Eles não tinham essa tradição codificacionista no começo do século XVIII.
Isso vale para todos os estados, menos um: a Louisiana. A Louisiana foi colônia espanhola e também francesa, sendo vendida aos EUA no início do século XIX. Era, então, o único estado norte-americano com influência codificacionista (da França e da Espanha), e após sua venda, optou por criar um Código Criminal.
O código foi escrito pelo advogado novaiorquino Edward Livingston. A obra, publicada em 1825, compreende quatro livros: o Código Penal, o Código Prisional, o Código de Provas e o Livro de Definições.
Nos textos estava previsto o crime de insurreição nos mesmo termos do Código Penal brasileiro, e o verbete insurrection também estava dicionarizado. Procurando nos anais da Câmara, Mônica Dantas encontrou uma menção à obra de Livingston e descobriu que o Código Criminal brasileiro contém trechos que são quase traduções literais do documento da Louisiana.
Fontes e o “bom cabrito”
Em 2004, Na primeira vez em que foi tratar do tema com esta ótica em um curso para a graduação, no Departamento de História da FFLCH, Mônica teve problemas em encontrar bibliografia em português relacionada – apesar da existência de excelentes trabalhos estrangeiros. Apesar da dificuldade, a professora percebeu que a abordagem suscitou um grande interesse por parte dos alunos.
“A gente comprou uma ideia de que o povo brasileiro é pacato, pacífico. O bom cabrito, quase. Quando pegamos um manual de segundo grau [ensino médio], o foco é sempre nos movimentos de elite, e a população livre, pobre e liberta some deste quadro. Ficamos com a ideia de que, depois da pacificação dos Praieiros em Pernambuco, há aquele plácido Segundo Reinado em que nada aconteceu.”
Sobre as fontes diretas, ao longo da pesquisa para o livro, a docente conta ter utilizado uma documentação diversificadada, mas ressalta que a parte central foram processos criminais. “Onde é que se acha população pobre, analfabeta? Em processos criminais – não necessariamente como réus ou vítimas, mas muitas vezes como testemunha. Não se trata de olhar para eles no crime, mas narrando o cotidiano deles”, declara.
Mais informações: (11) 3091-1149, site www.ieb.usp.br e www.alamedaeditorial.com.br