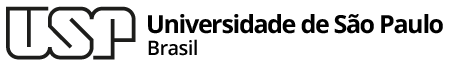Depois das férias do Natal de 1966, não voltei a Lisboa, não voltei à Faculdade de Letras, onde cursava o primeiro ano de Filologia Germânica. O último Natal foi passado com meus pais, com minha avó e Dona Lena. Saí de Portugal, supondo ir ao encontro de mim mesma, alimentando esperanças e fantasias mil. Sentia-me uma borboleta escapando da crisálida. Eu ia ao encontro do amor: um amor português, que se refugiara com a família em São Paulo, para não participar da guerra em África. O Brasil era-me inteiramente desconhecido. Deixarei para trás uma ditadura, a de Salazar, e entrarei em outra. Governava o Brasil o General Costa e Silva. Cheguei num dia nebuloso, abafado, peganhento de umidade. Caía uma garoa finíssima. Em São Paulo, fiquei na casa de meu namorado. Logo me registrei no Consulado Geral de Portugal.
Minha entrada na USP não foi uma tarefa fácil. Acabei englobada por uma série de dificuldades. Na secretaria da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), ninguém tinha a menor ideia do Acordo entre Portugal e Brasil, assinado em 7 de setembro de 1966, que devia permitir a minha transferência da Universidade de Lisboa para a USP. Mandaram-me para a Secretaria Estadual de Educação que, por sua vez, me mandou para o Itamarati. Foi então que meu futuro sogro entrou em campo e contatou seu amigo, o deputado Antônio Sylvio da Cunha Bueno, que conhecia a Prof.ª Amélia Americano Domingues de Castro, da Cadeira de Didática Geral e Especial da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), a qual entrou em contato com o Prof. Antônio Soares Amora, catedrático de Literatura Portuguesa.
O Prof. Amora, muito gentilmente, escreveu-me cartas de recomendação para cada catedrático do curso de Anglo-Germânicas. Fiquei, assim, autorizada a assistir às aulas e a fazer as provas desse curso a partir de maio de 1967. O processo da transferência ficou simultaneamente nas mãos do catedrático de Alemão e do diretor da Faculdade, Prof. Erwin Rosenthal, e foi demorado. Foi este senhor quem se empenhou em resolver a situação, entrando em contato telefônico com o cônsul adjunto de Portugal em São Paulo, Sr. Heitor Manuel Prestes Maia e Silva, para se informar da veracidade e dos termos do Acordo. Minha matrícula só se concretizou em novembro desse ano, fazendo-me aluna regular da USP, instituição que, em seu interior acadêmico, me acolheu com o maior carinho.
Das aulas de Língua Inglesa ministradas pela Mrs. Stevens no 1º ano, uma enorme londrina ruiva de saias rodadas, guardo um singular encontro meu com a alteridade. Numa das aulas, veio à baila o tema “pirates” para comentar e treinar conversação. Naturalmente que, ao ser chamada a fazer o meu comentário, eu me saí com um discurso que pensava ser universal. Articulei eu: “Pirates were English sailors, that spread over the seas for assaulting Portuguese vessels loaded with gold and spices”. Ao ouvir tal enunciado, Mrs. Stevens, do alto de sua portentosa figura ruiva e com voz tonitroante, me devolveu: “I’m a Londoner and I tell you that the English people were brave sailors at the service of their country!”
Fiquei vexada com esta perspectiva diferente que nunca me ocorrera. E, assim, de pouco em pouco, fui-me recolocando no mundo. As aulas de Teoria Literária dadas pela Prof.ª Walnice Nogueira Galvão, uma professora muito jovem, de cabelos curtíssimos, que usava mini-mini saia, e que, no inverno, usava botas “over the knee”, foram extraordinárias. Foi com ela que aprendi, de verdade, a fazer análise textual e poética em cima de “A banda” de Chico Buarque. Com Walnice, eu colocava conceitos em prática, mesmo sem saber que manejava o “New Criticism” e o “Formalismo Russo”.
Linguística era ministrada pelo Prof. Izidoro Blickstein, bastante jovem, cuja voz a um só tempo potente e suave, e poderosamente invasora da minha mente, permitia-me reter e saber tudo no ato mesmo da audição, sem ter que estudar. Suas aulas eram memoráveis. Minha prova final, que durou uma manhã inteira, em que obtive a nota dez, foi publicada no Jornal Hífen (do CAEL) nº 4, de 1967, p.14-16. Recordo-me também das aulas do Prof. Erwin sobre o Woyzeck, de Georg Büchner, no 3º ano. Durante a interpretação, em que o professor pediu a opinião dos alunos, na minha vez, referi-me a Marie, companheira de Woyzeck como “Hure” (puta), porque ela, na minha perspectiva, vivia com ele amasiada. Lembro-me que esta minha designação causou estranheza ao professor e isso me levou a refletir no que eu dissera e a perceber que “companheira” não era sinônimo de puta. Foi nessa aula que tomei consciência de que a hierarquização feminina, trazida de Portugal, em que as mulheres podiam ser divididas em apenas dois grupos: as casadas/casadouras/as puras e as outras, as putas, não funcionava nem na Alemanha e nem no Brasil. Que diferença estas aulas interativas tinham daquelas ouvidas à distância entre professor e aluno no grande anfiteatro em Lisboa, como se discursos fossem. Os professores na FFCL/USP estimulavam-me a pensar criticamente.
Também foi no convívio acadêmico brasileiro na USP que descobri o Kardecismo, identificado com espiritismo, que para mim era uma prática de pessoas supersticiosas! Fiquei espantada com o fato de moças universitárias acreditarem em espíritos, assim piamente, sem dúvidas. Essa problemática da religião haveria de ter muitos e variados desdobramentos na minha vida. Um dia, fui questionada sobre minha crença nos dogmas da Igreja Católica e fui obrigada a reconhecer que não cria neles, e dir-me-ão, com todas as letras, que não podia considerar-me católica, e, perplexa, constatei que, realmente, nunca o fora. Além do Kardecismo, conheci também a Umbanda, o Candomblé, e fiquei uns três anos sem saber para quem rezar. Depois, mais tarde, conheci a Teosofia e a Antroposofia e, junto com os ensinamentos da Filosofia e Psicologia angariados no Liceu, fui construindo um edifício onde tudo passou a caber.
Meu amadurecimento no Brasil foi intensivo. Comecei a perceber de leve que nascer e crescer dentro de uma ditadura significa viver e crescer prisioneira a céu aberto, numa cela mental, de muito estreitos horizontes! Faz-se com o cérebro o mesmo que os japoneses antigos faziam com os pés de suas meninas – os pés de lótus.
Mas a realidade revolucionária à minha volta era crua, feia, perigosa. Estava eu, uma bela manhã, 2 de outubro de 1968 na Faculdade do prédio da rua Maria Antônia 294, numa sala do primeiro andar com as janelas viradas para essa rua, na aula de Alemão com o Prof. Sidney Camargo, quando, a certa altura, uma pedra varou o vidro da janela e caiu na sala sem atingir ninguém. Fomos imediatamente dispensados e evacuados pelas traseiras do edifício. Era o começo da “batalha da Maria Antônia”, com José Dirceu na liderança. Numa ida à faculdade interditada, fiquei sabendo que o curso havia sido transferido para o Prédio de História e Geografia na Cidade Universitária. Aí, a imponência das rampas internas do Prédio de História e Geografia faziam-me lembrar as escadarias da entrada da Faculdade de Letras de Lisboa e, de repente, senti saudades! Lá estavam minhas raízes! Não conseguira extirpá-las em minha caçada à liberdade encantada!
Terminei o ano acadêmico de 68 com médias boas; os exames finais, tanto escritos como orais, haviam sido abolidos. O ano letivo de 1969 começou numas salas pré-fabricadas, onde hoje está o Instituto de Psicologia. Em 1970, já na FFLCH, pude usufruir do recém-criado “Currículo V”: Inglês, Alemão e Português. Enquanto o mundo do meu Curriculum V transcorria, outros mundos paralelos e secantes também se expandiam. Sob o General Emílio Garrastazu Medici, o regime entrara no seu período mais duro e repressivo, um período conhecido como “os anos de chumbo” metafórica e literalmente.
Em 1971, terminando o bacharelado e a licenciatura em Português, nem eu escapei da mão da ditadura. Um dia, na faculdade, no segundo semestre, por ocasião de um seminário, que deveria ser apresentado por mim e mais três colegas em Prática de Ensino de Português, a Ângela Almeida não apareceu! Todas ficamos apreensivas: primeiro, porque ninguém tinha o material que lhe caberia expor; segundo, porque as três (à exceção de mim) eram amigas de longa data e não tinham ideia do motivo da falta. Assumimos de improviso a parte da Ângela e, ao final, resolvemos ir à sua casa. Chegando lá, fomos recebidas pela mãe da Ângela, que com ela estava na sala de visitas, acompanhada de mais dois senhores, vestidos de terno e gravata, os quais, pensei, serem outras visitas. Fomos apresentadas e ficamos sabendo que os senhores pertenciam à polícia secreta (DOPS/DOI-CODI/OBAN) e que não poderíamos sair mais dali.
A Ângela e a família estavam presas no domicílio e nós, a partir de então, também. Fiquei sabendo depois que um dos seus irmãos, estudante de Física na USP, era supostamente guerrilheiro e estava desaparecido. A polícia secreta, na vigência da Operação Bandeirantes, tendo como pano fundo a Operação Condor, tentava levantar as suas conexões/comunicações e, portanto, nós acabávamos de entrar no rol dos suspeitos. Lembro-me que os dois indivíduos de terno escuro, sempre muito educadamente, entabularam comigo uma conversa serena sobre quem eu era, sobre Portugal, sobre as colônias que, logo, eu corrigi para províncias ultramarinas, e eles foram perguntando, e eu fui respondendo. Lembro-me de ter ficado extremamente nervosa. Deveria ter seguido da faculdade para o colégio, onde deveria ministrar à noite minhas três aulas de inglês e fui impedida.
Senti-me absolutamente desamparada no meio de estranhos, num país estranho, sem me poder comunicar com ninguém, absolutamente impotente, não adiantava saber inglês, saber alemão, saber discutir sobre questões existenciais, falar sobre dignidade e direitos humanos, ali eu não era nada e viver essa experiência de aniquilamento interior foi de uma tal violência que me deixou marcas na alma. “Nunca foi tão perigoso ser estudante no Brasil”, escrevem as historiadoras Lilia Schwarcz e Heloisa Starling em Brasil: uma biografia (p. 461). Lá pelas 23:00 horas, levaram-nos, as três (eu, Ana Maria e Maria da Penha), de carro a um outro lugar que, hoje, deduzo ter sido a sede do DOI-CODI, sucessor da OBAN, na rua Tutóia, uma organização repressiva sob o comando do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.
Ali, numa sala vazia, chamaram o que deveria ser um enfermeiro e lhe pediram uma injeção para mim. O enfermeiro aplicou-me a injeção, e eu confesso que nunca em toda a minha vida voltei a sentir a mesma sensação de bem-aventurança que me invadiu naquela noite: fiquei absolutamente serena e extraordinariamente lúcida com uma visão extremamente arguta da realidade. Que droga teria sido aquela? Depois que me acalmei, pediram para que eu não comentasse o ocorrido com absolutamente ninguém e liberaram-nos. Teriam anotado os nossos nomes em fichas? Chamaram um taxi que nos levou para a casa da Ana Maria e, de lá, esta e sua mãe levaram-me também de taxi até minha casa – já passava muito da meia-noite. De fato, durante muitos e muitos anos, mantive uma pedra sobre isto, só me aborrecia com o fato de que em qualquer troca de ideias sobre política ou religião, começava a tremer e a me sentir ameaçada. E só, muito mais tarde, associei as duas coisas! Caetano Veloso haverá de dizer no documentário “Narciso em férias”, repetindo uma frase de Rogério Duarte, que “uma vez que você foi preso, você fica para sempre preso”.
No decorrer desse ano de 1971, fui convidada a fazer Pós-Graduação (Mestrado) em Alemão. Depois, fiz o Doutorado e o Pós-Doutorado. Em 1980 fui convidada a lecionar no Curso; o concurso foi realizado mais tarde. Aqui permaneço até hoje, embora aposentada ainda ativa, porque a FFLCH-USP é a minha casa no mundo amplo que me ensinou a ver!