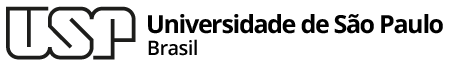Pesquisa propõe ampliação do conceito de violência de gênero para abranger as experiências das travestis
“Pode perguntar pra qualquer travesti, a primeira agressão que ela tem é com o pai, porque o pai é o primeiro a enfrentar ela. É o primeiro homem que diz que ela não pode ser o que ela quer ser”. O desabafo é de Roberta, nome fictício e uma das oito pessoas autoidentificadas como travestis que tiveram suas histórias de vida ouvidas pela psicóloga Valéria Melki Busin para sua tese de doutorado, em que mostra como as travestis experienciam as violências cotidianas, o que sentem e como enfrentam.
O próprio nome do trabalho Morra para se libertar: estigmatização e violência contra travestis, apresentado em 2015 no Instituto de Psicologia (IP) da USP, sinaliza as dificuldades de ser travesti em uma sociedade na qual a diferença gera uma série de violências.
“O título é uma metáfora, obviamente, mas está relacionado com os ‘recados’ que as travestis recebem continuamente ao longo de suas vidas: se elas ostentam a ‘feminilidade’, correm o risco de morrer fisicamente. Se elas deixarem de ser travestis, não vão sofrer violência, entretanto, não ser mais travesti é um outro tipo de morte para elas”, explica a pesquisadora.
Valéria realizou sua pesquisa entre 2011 e 2015, a partir de entrevistas com as travestis Roberta, Kharla, Camily, Rebecca, Pryscilla, Sharon, Iara e Cynthia, escolhidas a partir dos seguintes critérios: residentes na Região Metropolitana de São Paulo, ser ou não militante, mais de 18 anos, ter passado pela prostituição, mas não tivesse mais atuando, travestis que nunca estiveram na prostituição e aquelas que ainda estavam.
Segundo a pesquisadora, no senso comum, a travesti é vista como uma mistura de performance teatral, ligada à disfarce. No dicionário, também há essa menção. Na área acadêmica, não tem consenso. “Os trabalhos acadêmicos colocam as travestis ou na fronteira dos dois sexos, como um binarismo (masculino/feminino) revisitado, ou trabalham que travesti não é prática, é identidade, mas não há consenso, inclusive entre as oito travestis que colaboraram comigo na pesquisa.”
Para cada uma delas, ser travesti tem um significado atribuído com a vivência e a experiência, então não dá para criarmos um rótulo que defina por elas e em nome delas o que é ser travesti.
O que há em comum entre as entrevistadas, segundo Valéria, é que elas foram oficialmente, por meio de documentos, designadas do sexo masculino. Além disso, reinventaram-se porque cada uma se vê de uma forma. “Para cada uma delas, ser travesti tem um significado atribuído com a vivência e a experiência, então não dá para criarmos um rótulo que defina por elas e em nome delas o que é ser travesti”, ressalta. “Acredito que elas nos ajudam a sair da caretice porque fazem, de fato, repensarmos todas nossas certezas em relação ao masculino e ao feminino. Talvez por isso que incomodem tanto.”
Família e escola
Esse incômodo se traduz em violência. Logo que as travestis começam a se montar, ou seja, colocam nelas próprias características que são tidas como femininas, iniciam as humilhações e o processo de estigmatização.
“A violência vem desde familiares, de amigos, da polícia e de pessoas desconhecidas, elas não têm uma rede de proteção. Todas as pessoas que sofrem algum tipo de discriminação, de qualquer segmento, possuem algum grupo de pessoas que ajudam e dão alguma proteção, as travestis não têm isso”, alerta Valéria.
Em relação à família, as entrevistadas, em algum momento, tiveram rupturas. A pesquisadora diz que as figuras masculinas da família são as que defendem com mais afinco as normas de gêneros. “Os pais, os padrastos e irmãos eram as pessoas da família que cometiam as maiores violências físicas ou psicológicas.”
“Meu pai falou que eu era homem, que eu não podia fazer aquilo. Só que eu não entendia nada”, relata Sharon, contando quando apanhou dos pais, aos sete anos de idade, após ser vista de calcinha dançando.

Em relação à escola, as travestis passavam sistematicamente por exclusão, humilhação e violência física e sexual. “Eu lembro que eu cheguei em casa e chorei um monte, mas eu não contava para a minha mãe. Não contava para ninguém isso. Eu ficava pensando: qual é o motivo de eles estarem me batendo?”, depoimento de Camily sobre as constantes agressões na escola.
“Eu gostava de estudar. Adorava ir à escola. Mas não dava. Era insuportável. O tempo todo jogavam papelzinho na minha cabeça. Eram quase todos. [Xingavam] de ‘viadinho’”, lembra Sharon.
Segundo a pesquisadora, na maioria das vezes, elas não conseguiam entender o que estava acontecendo e se sentiam culpadas, não se percebiam como pessoas com direitos violados. Além disso, não denunciavam – e as raras vezes em que faziam a denúncia, tiveram omissão das pessoas que deviam protegê-las. “No local onde devemos aprender cidadania e convivência, que é a escola, elas tinham medo de morrer.”
Ódio de desconhecidos
“Não tinha um porquê… daqueles meninos me baterem naquele momento, eu não tava mexendo com eles, eu não tinha dito nada que pudesse ofender eles. Não tinha nada que chamasse a atenção deles para que eles me ofendessem, que eles me agredissem como me agrediu”, a história dessa violência sem sentindo foi contada por Roberta que levou um tapa no rosto ao passar por uma passarela perto de sua casa e encontrar três garotos.
Esse tipo de agressão de pessoas desconhecidas é uma constante nas histórias relatadas pelas travestis, qualquer pessoa na rua se sente “autorizada” a agredir e humilhar gratuitamente.
“Para elas, essa violência vinda de desconhecidos são sentidas como muito cruéis e muito chocantes porque não têm motivo. Elas podem estar andando no ônibus, dentro do hospital, andando na rua e sofrem a violência do nada. E, geralmente, os autores são homens, que andam em grupos”, explica Valéria.
Trabalho
A pesquisadora afirma que muitas pessoas acreditam que as travestis se “tornam” travestis para se prostituir e ganhar dinheiro. No entanto, Valéria lembra que as entrevistadas contaram que a vontade de se mostrar com atributos tidos como femininos ocorreram desde crianças.
“A maioria delas teve que abandonar a escola, a família, não tiveram apoio afetivo e material, não tiveram oportunidade de qualificação. Elas buscaram formas diversas de subsistência, mas, ou perdiam o emprego a partir do momento no qual se ‘feminilizavam’, ou se já estavam como travestis, eram exploradas em subempregos e sofriam violência constantemente. Essa situação faz com que uma porcentagem enorme, 90% das travestis, segundo dados da Associação Nacional de Travestis, vivam da prostituição, mas não gostariam de viver dela”.
A tese da psicóloga Valéria traz muitas histórias de violências cometidas contra as travestis. Na verdade, são as histórias de vida delas e, por isso, é admirável a força de sobrevivência sob tanta adversidade. Ao mesmo tempo, é chocante perceber como a violência é exercida constantemente e por toda a sociedade. Assim, a pesquisadora propõe uma ampliação do conceito de violência de gênero que comporte a experiência das travestis.
“As definições tradicionais que encontramos na literatura acadêmica basicamente se referem à violência contra as mulheres ou cometidas entre homens e mulheres, violência doméstica ou intrafamiliar e violência de casal ou entre parceiros íntimos”, diz a pesquisadora.
Valéria lembra que as travestis são agredidas porque se aproximam do feminino e, na maioria das vezes, os tipos de violência cometidos contra elas não estão nesses casos da definição tradicional de violência de gênero.
“A minha proposta é de que a violência de gênero seja considerada uma violência simbólica que atinja qualquer pessoa que seja desqualificada porque se expressa por meio do que seria visto como próprio somente do mundo feminino ou alguém que seja desqualificado por uma designação de gênero atrelada necessariamente ao corpo, no âmbito biológico, com o qual não se identifique (travestis, homens e mulheres transexuais)”, propõe Valéria.
Hérika Dias / Agência USP de Notícias
Mais informações: email valeriamelkibusin@gmail.com