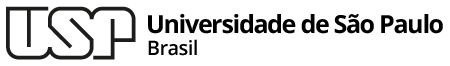Quando uma substância chega à fase dos testes com humanos, é preciso tomar uma decisão que impactará todo o ensaio clínico: o método estatístico a ser empregado na busca pela dosagem segura
Nos profundos olhos azuis do bioestatístico André Rogatko, paira uma dose de frustração. Esse brasileiro participa da luta contra o câncer desde 1985 e hoje é diretor de Bioestatística e Bioinformática no centro de pesquisa do Cedars-Sinai Samuel Oschin Comprehensive Cancer Institute, localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde começou a trabalhar em 2008. Sua batalha é travada no campo dos métodos estatísticos usados no início dos ensaios clínicos com uma nova substância, a qual tenha demonstrado anteriormente, em testes em laboratório in vitro e com animais, que poderá ter algum efeito no combate ao câncer. Esse primeiro passo é bastante crítico porque é quando a substância passa a ser utilizada pela primeira vez nos seres humanos, uma fase que determinará qual dose deverá ser administrada aos pacientes nas próximas etapas dos testes.

“Mas não adianta eu demonstrar, estatisticamente, que um método é melhor do que o outro para ele ser adotado. Esse universo de pesquisa é complexo, a indústria farmacêutica gasta milhões de dólares nesses estudos e há aspectos culturais, sociais, burocráticos e éticos que devem ser considerados”, pondera Rogatko, enquanto toma uma água em um dos intervalos do 4° Workshop de Métodos Estatísticos e Probabilísticos, em São Carlos. A convite dos organizadores do evento – promovido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) –, o especialista veio ao país especialmente para ministrar um minicurso explicando como funciona o método estatístico que desenvolveu em parceira com outros três pesquisadores e está disponível na internet. Chamado de Escalation With Overdose Control (EWOC), o método foi empregado na fase 1 de diversos ensaios clínicos, alguns deles realizados pela Novartis, uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, e já foi utilizado em mais de 20 ensaios clínicos publicados.
Nesse método, é fornecida uma dose inicial da substância que está sendo pesquisada para os pacientes e a decisão em relação ao aumento ou à diminuição da dose que será administrada aos próximos pacientes dependerá dos resultados observados nos primeiros participantes dos testes. Esses resultados são obtidos por meio de exames, que identificam a evolução da doença, e por meio da observação dos possíveis efeitos colaterais, que são classificados em níveis de toxicidade, de acordo com o estabelecido pelos órgãos reguladores. Dessa forma, a dose vai sendo adaptada ao longo do processo, a partir das informações estatísticas que são inseridas no modelo. “Nosso desafio nesses testes é encontrar qual é a maior dose tolerável ou a dose de segurança. O ideal é nunca fornecermos aos pacientes doses muito distantes desse valor. Porque com uma dose superior corremos o risco de aparecer toxicidades ou até ocorrer mortes. Por outro lado, se o valor for muito menor, o tratamento poderá não ter qualquer efeito terapêutico”, explica o pesquisador.
Um novo ponto de vista

A questão é que Rogatko construiu um método adaptativo para encontrar a maior dose tolerável – estatisticamente, ele emprega a chamada Inferência Bayesiana –, rompendo com o modelo mais tradicional utilizado na fase 1 dos testes clínicos, chamado de método Modified Fibonacci Up and Down ou simplesmente 3 3. Grosso modo, o método tradicional apenas fornece a dose inicial para um número pequeno de pacientes e analisam-se os resultados. Quando a toxicidade é baixa, prosseguem-se os testes com mais pacientes, aumentando-se a dose no percentual pré-estabelecido durante o início dos testes. No momento em que os pacientes começam a apresentar algum nível mais preocupante de toxicidade (algo como 2 e 3 em uma tabela que vai até 5), a dose de segurança é estabelecida como sendo a imediatamente anterior.
“O problema é a pouca precisão desse método tradicional: um número reduzido de pacientes é tratado com a dose de segurança que foi determinada. Alguns especialistas argumentam que tudo será resolvido na fase 2, quando mais pacientes passarão a participar dos testes. Mas há um erro lógico aí: você já parou de procurar a dose e ela pode estar errada”, defende o pesquisador.
De fato, se a dose encontrada for muito alta, rapidamente o equívoco será constatado: os próximos pacientes sentirão as consequências e logo os testes cessarão. É provável que a substância seja considerada muito tóxica e a pesquisa não prossiga. Por outro lado, se a dose encontrada for muito baixa, a possível dedução é que o medicamento é ineficaz. Analisando sob o ponto de vista de Rogatko, compreendemos que, na verdade, essas duas conclusões são precipitadas, nascidas de um mero erro conceitual.
Comparar é preciso
De acordo com o bioestatístico, existem atualmente cerca de 771 medicamentos para tratar o câncer em desenvolvimento nos Estados Unidos e cerca de 2,8 mil ensaios clínicos na fase 1 sendo realizados no país (veja mais). Os pacientes selecionados para participar dessa fase têm um perfil bem definido: são aqueles que não apresentaram qualquer melhora usando os tratamentos já disponíveis e têm a esperança de obter a cura engajando-se nas pesquisas com as novas substâncias. No entanto, um estudo publicado no The New England Journal of Medicine em 2005 (Risks and Benefits of Phase 1 Oncology Trials, 1991 through 2002) demonstrou que apenas 10% desses pacientes conquistaram algum benefício participando dos testes.
O pesquisador brasileiro garante que mais pacientes poderão ser beneficiados se o método EWOC for utilizado: “Realizamos simulações comparando o método tradicional com o EWOC: no tradicional, apenas 35% dos pacientes que participam dos testes são tratados com doses ótimas, ou seja, próximas à maior dose tolerável estabelecida. No EWOC, esse índice chega a 55%” (leia o artigo).

Apesar dos bons resultados apresentados, o EWOC ainda é utilizado na fase 1 de um percentual muito reduzido de ensaios clínicos. Movido pelo desafio de investigar cientificamente a questão, Rogatko analisou os métodos estatísticos empregados nessa fase que foram registrados entre 1991 e 2006 no banco de dados Science Citation Index. Descobriu que apenas 3 dos 1.235 trabalhos encontrados empregavam o EWOC, como pode ser visto no artigo Translation of Innovative Designs Into Phase I Trials, publicado no Journal of Clinical Oncology em novembro de 2007. É como se o pesquisador comprovasse, por meio de evidências, que sua frustração tem respaldo científico.
Ele explica que o número de pacientes necessários para realizar a fase 1 dos estudos clínicos é relativamente pequeno quando se usa o método tradicional. Considerando-se que o custo de ter um participante nesse tipo de teste é muito alto, é economicamente positivo reduzir esse número. “Mas se a precisão da estimativa da dose ficar comprometida, não vale a pena ter mais pacientes para assegurar uma maior exatidão?”, questiona o pesquisador. Como é esperado de um profissional que lida todo momento com o universo das probabilidades, ele pondera: “Temos uma prova absoluta de que o EWOC é sempre melhor do que o método tradicional? Claro que não, porque seria preciso desenharmos infinitos cenários.”
Aprendizado valioso
Na opinião do professor Mário de Castro, do ICMC, a experiência de assistir a um minicurso como o que foi ministrado por Rogatko é extremamente valiosa para os estudantes de pós-graduação do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs), principal público-alvo do 4° Workshop de Métodos Estatísticos e Probabilísticos. “Rogatko mostrou que a estatística tem muito a contribuir na busca por encontrarmos soluções para problemas relevantes do mundo real, tal como o câncer. Ele explica claramente a possibilidade de aplicarmos as metodologias estatísticas nesse campo, desde as mais simples até as mais sofisticadas”, conta Castro.
Para a professora Vera Tomazella, do Departamento de Estatística da UFSCar, quando os pós-graduandos têm contato com as pesquisas que estão sendo realizadas atualmente, há um impacto nos estudos que realizarão no futuro. “O efeito é justamente esse: ao saber o que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil, nossos alunos percebem que estão no lugar certo e que a gente está trazendo um conhecimento extra para eles”, diz Vera, que também é presidente da Associação Brasileira de Estatística (ABE).
A professora Juliana Cobre, do ICMC, acrescenta: “Ao ver como é o trabalho de Rogatko, os estudantes aprendem que um estatístico nunca trabalhará sozinho se optar por atuar nesse campo de pesquisa. Ele precisará estabelecer uma estreita parceria com os demais profissionais da área médica”.
O 4° Workshop de Métodos Estatísticos e Probabilísticos aconteceu entre os dias 1 e 3 de fevereiro e reuniu 73 participantes. O evento faz parte do Programa de Verão em Estatística e tem como objetivo principal difundir novos resultados no campo da estatística, probabilidade e de suas aplicações, com o intuito de estimular a troca de experiências entre os participantes. Além do minicurso de Rogatko, houve 11 palestras e duas sessões de pôsteres.
Denise Casatti / Assessoria de Comunicação do ICMC